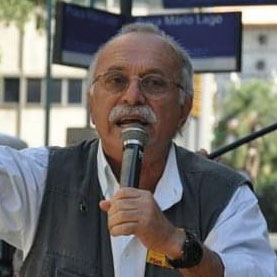Eu iria escrever sobre as ações do governo para salvar a economia diante do tarifaço — os tais R$ 30 bilhões em crédito subsidiado, a ampliação de fundos garantidores, os incentivos fiscais e as compras governamentais emergenciais. Mostrar como funcionam essas medidas, como poderiam ser mais amplas, mais duradouras e, sobretudo, mais focadas no povo do que nos negócios.
Mas, ao refletir, percebi uma questão ainda mais relevante: sempre que o capital entra em sufoco, o Estado aparece como salvador. E, junto com ele, o dinheiro que supostamente tinha acabado se torna, de repente, abundante.
Isso ficou claro em 2020. De 2015 até o início da pandemia, qualquer sugestão de gastar R$ 10 bilhões a mais que a meta de primário era recebida como catástrofe: diziam que o Brasil viraria a Venezuela, que a inflação explodiria, que o caos estava garantido. Durante anos nos repetiram o mantra de que “o dinheiro acabou”. Qualquer bilhão fora do teto de Temer era tratado como ameaça existencial à economia.
Mas então veio a crise sanitária global. Empresas em colapso, bancos fragilizados, exportadores primários perdendo mercado. Quem entrou em cena para salvar o capital no Brasil e no mundo? O Estado. Ora, mas não estava sem dinheiro? De repente, o impossível aconteceu: o governo brasileiro fez os maiores gastos de sua história justamente no ano de maior queda de arrecadação, em 2020, com déficit superior a R$ 1 trilhão.
E o que se previa? Que as taxas de juros explodiriam, que o setor privado deixaria de financiar o Estado, que a inflação sairia do controle. O que ocorreu, de fato? Tivemos as menores taxas de juros da história, chegando a juros reais negativos — e nenhum problema para realizar gastos trilionários.
Esse episódio deveria ter encerrado de vez a farsa: o Estado não precisa “pegar emprestado” no mercado para gastar. Ele emite a sua própria moeda e estabelece a taxa de juros no patamar que desejar, com consequências macroeconômicas que precisam ser planejadas — mas sem risco de insolvência.
De 2015 até o início da pandemia, qualquer sugestão de gastar R$ 10 bilhões a mais que a meta de primário era recebida como catástrofe: diziam que o Brasil viraria a Venezuela, que a inflação explodiria, que o caos estava garantido
As operações com títulos públicos não financiam o Estado: servem para regular a taxa básica de juros e oferecer ao setor privado um ativo seguro, rentável e livre de risco de calote — já que a dívida é na moeda que só o próprio Estado pode emitir. Até economistas ortodoxos como André Lara Resende já admitem: o Estado gasta criando dinheiro do nada e, depois, calibra a demanda com impostos e operações financeiras.
Como formulou Abba Lerner em 1943, ao desenvolver a teoria das finanças funcionais — que se consolidou como parte do paradigma dominante no pós-guerra —, a política fiscal não deve se orientar por metas contábeis arbitrárias, como superávits primários ou equilíbrio formal do orçamento, mas por seus efeitos macroeconômicos concretos. A lógica é funcional: o Estado deve ajustar o nível de gasto público de modo a assegurar o pleno emprego dos recursos produtivos e utilizar o resultado fiscal — a combinação entre tributos e despesas — como instrumento de regulação da demanda agregada. Em contextos de desaquecimento, déficits são necessários para sustentar a atividade; em momentos de pressões inflacionárias decorrentes de excesso de demanda, a política fiscal pode conter gastos ou ampliar a arrecadação, de modo a preservar a estabilidade de preços.
Essa concepção parte de um princípio fundamental: a escassez de moeda doméstica é impossível em países que emitem sua própria moeda soberana. O Estado não precisa “obter” previamente essa moeda para gastar, pois ele é a única fonte de sua emissão. O que existe são limites reais — disponibilidade de trabalho, tecnologia, capacidade produtiva — e não financeiros. Já a escassez de moeda de reserva internacional e o endividamento externo configuram uma restrição distinta, ligada à posição do país na hierarquia monetária global e às suas condições de balanço de pagamentos, o que coloca desafios específicos às economias periféricas, mas que não alteram o fato de que, no plano doméstico, o Estado nunca “fica sem dinheiro” em sua própria moeda.
O dinheiro que só aparece após a tragédia e o tarifaço de Trump
Mais recentemente, diante da tragédia no Rio Grande do Sul, o dinheiro “reapareceu” novamente: despesas fora das regras fiscais autoimpostas foram autorizadas pelo Congresso sem provocar qualquer “desarranjo” econômico. Foi fundamental — mas a pergunta persiste: por que esses recursos não surgiram antes, para financiar obras estruturais de prevenção e evitar a destruição de cidades inteiras pelas chuvas? Por que só depois da catástrofe?
Em 2025, a cena se repete. Após o ataque imperialista de Trump — que mira as terras raras brasileiras, a desregulamentação das big techs e a influência política no país ao bancar a extrema direita fascista —, o governo respondeu ao tarifaço com um pacote emergencial de medidas fiscais e creditícias, direcionadas a garantir a sobrevivência dos setores exportadores:
- R$ 30 bilhões em linhas de crédito subsidiado, operadas por BNDES e Banco do Brasil;
- Aportes adicionais bilionários em fundos garantidores (FGCE, FGI e FGO);
- Expansão do regime Reintegra, devolvendo créditos tributários a exportadores (até R$ 5 bilhões até 2026);
- Prorrogação do drawback, que suspende tributos sobre insumos importados destinados à exportação;
- Compras governamentais simplificadas de produtos afetados (pescados, frutas, castanhas, mel).
Entre todas as medidas, apenas esta última apresenta um efeito social mais direto, ainda assim restrito a segmentos específicos do agronegócio. Em outras palavras: o objetivo central é salvar o capital exportador e, apenas como subproduto desse resgate, surge algum alívio para a população — quase um efeito colateral.
No agregado, são mais de R$ 9,5 bilhões fora da meta fiscal do arcabouço, além de renúncias tributárias. E, desta vez, não houve debate sobre “rombos” nem editoriais alarmistas sobre “quebra do país”. O mesmo Congresso que bloqueia verbas para universidades, saúde, assistência social ou meio ambiente aprovou, em tempo recorde, bilhões para blindar os exportadores.

A pergunta incômoda
Eis a questão: por que diabos o dinheiro só acaba para o povo? Por que há teto de gastos para saúde, educação, meio ambiente e saneamento básico — em plena emergência social e ecológica —, mas não há limite algum para o pagamento de juros da dívida pública? Por que se corta no BPC de idosos e pessoas com deficiência, por que se contingenciam universidades, ao mesmo tempo em que o dinheiro magicamente aparece para salvar empresas, bancos e exportadores sempre que necessário?
O objetivo central é salvar o capital exportador e, apenas como subproduto desse resgate, surge algum alívio para a população — quase um efeito colateral
A resposta é estrutural: o dinheiro “acaba” apenas quando convém ao capital. As chamadas “restrições fiscais” não decorrem de limites técnicos, mas são mecanismos políticos, autoimpostos para disciplinar a classe trabalhadora e garantir a reprodução da ordem vigente. Em vez de utilizar o orçamento como instrumento para expandir direitos e assegurar o pleno emprego, a austeridade fiscal fabrica artificialmente a sensação de escassez, legitimando cortes em serviços sociais e investimentos públicos.
No coração dessa engrenagem está a manutenção deliberada de um nível de desemprego “disciplinador”. O exército industrial de reserva cumpre a função de frear a elevação dos salários e de fragmentar politicamente a classe trabalhadora, reduzindo sua capacidade de organização coletiva. Os economistas ortodoxos descrevem esse mecanismo de maneira asséptica, chamando-o de NAIRU (taxa “natural” de desemprego não-aceleradora da inflação). Para mantê-lo, defendem a combinação de políticas monetárias e fiscais restritivas — juros elevados e austeridade orçamentária. No Brasil, a ortodoxia chega a estimar que essa taxa deve se situar em torno de 7% de desemprego: abaixo disso, dizem, há “risco” de pressões inflacionárias. E, para confundir ainda mais a população, chamam essa taxa de “pleno emprego”, quando para nós o pleno emprego significa exatamente o oposto — a utilização de toda a força de trabalho disponível, sem desperdício humano.
Mas, como advertia Michał Kalecki, não se trata de uma “lei natural”, e sim de um instrumento de poder. O pleno emprego não é apenas uma variável macroeconômica: é uma ameaça à dominação burguesa, porque fortalece a classe trabalhadora, amplia suas demandas, dá voz às maiorias e coloca em xeque a disciplina que o capital exerce sobre a sociedade.
Da mesma forma, a austeridade fiscal esvazia sistematicamente a capacidade do Estado de oferecer serviços públicos universais e de realizar investimentos estratégicos de longo prazo. Ao impor restrições orçamentárias permanentes, bloqueia-se não apenas a expansão de políticas sociais, mas também a manutenção da infraestrutura existente, condenando escolas, hospitais, sistemas de transporte, redes de saneamento e até a matriz energética à precarização contínua. Essa escassez fabricada não é neutra: ela funciona como justificativa para transferir ao setor privado funções que deveriam ser públicas.
Nesse vazio deliberadamente criado, abrem-se espaços para a mercantilização de direitos fundamentais: privatizações diretas, parcerias público-privadas, concessões de serviços básicos e novas formas de financeirização da vida social. Saúde, educação, água, energia e transporte deixam de ser reconhecidos como bens universais e passam a ser tratados como ativos rentáveis, ajustados à lógica do lucro e subordinados às exigências do capital financeiro. A austeridade, assim, não é apenas contenção: é estratégia de reconfiguração estrutural do papel do Estado, que deixa de ser garantidor de direitos para se tornar garantidor de mercados.
Em suma, o dinheiro não acaba porque não existe; ele “acaba” porque precisa acabar para o povo. A fabricação da escassez é parte essencial da engrenagem que sustenta a disciplina da classe trabalhadora, aprofunda a desigualdade social e reforça a dependência econômica. É por meio dessa engenharia que o capital assegura que a abundância estatal esteja sempre reservada aos seus resgates, enquanto a escassez é imposta como destino para a maioria.
A austeridade, assim, não é apenas contenção: é estratégia de reconfiguração estrutural do papel do Estado, que deixa de ser garantidor de direitos para se tornar garantidor de mercados
O desafio do século XXI
Se o Estado revela sempre enorme capacidade de mobilizar recursos quando está em jogo a sobrevivência do capital, então devemos exigir que essa mesma capacidade seja colocada a serviço dos grandes desafios do século XXI: a reconstrução ecológica, a erradicação da fome, a universalização da saúde e da educação, a transição energética e a redução das desigualdades. Mas é fundamental destacar que essa luta não se confunde com a ilusão de reformas pacíficas e harmonizadoras, como se fosse possível conciliar interesses que são estruturalmente inconciliáveis. Cada conquista nesse terreno, ainda que parcial, resulta do confronto direto com a ordem do capital e carrega em si um caráter instável e precário. O seu sentido estratégico não é humanizar o capitalismo, mas sim acumular forças, confiança e organização para expor seus limites históricos e abrir caminho para a sua superação.
Ao mostrar à classe trabalhadora que o dinheiro só “acaba” para ela — nunca para pagar juros aos rentistas, socorrer bancos, agro e exportadores —, destruímos a narrativa central do capital de que reformas são inviáveis porque não haveria recursos. Esse desmascaramento é, por si, um passo tático da luta: abrir os olhos sobre a arbitrariedade das restrições fiscais é corroer o mito que sustenta a austeridade. Como já lembrava Kalecki, conquistas nesse terreno são perigosas para a burguesia, pois desorganizam o mecanismo político do desemprego disciplinador e corroem as bases de sua dominação.
É justamente nesse ponto que a lição de Rosa Luxemburgo se torna decisiva. As reformas não podem ser vistas como um fim em si mesmas, como se fosse possível administrar racionalmente o capitalismo em benefício da maioria. Para Rosa, cada conquista obtida pela classe trabalhadora é sempre parcial e instável, porque se choca com os interesses estruturais do capital. Elas têm valor apenas enquanto trincheiras da luta de classes, isto é, enquanto expressões da capacidade de organização e pressão do movimento operário e popular.
O sentido estratégico, portanto, não é acumular reformas para “aperfeiçoar” o capitalismo, mas utilizá-las como instrumentos de tensão permanente contra a sua lógica. Cada avanço deve ser convertido em demonstração concreta de que a narrativa da escassez é ideológica, de que o “não há dinheiro” é uma ficção necessária ao capital para manter o desemprego disciplinador e a austeridade como formas de dominação. Ao desnudar essa farsa, revela-se que a sociedade pode, sim, organizar os recursos de modo distinto — não em favor da acumulação privada, mas das necessidades coletivas.
E é nesse processo de luta, de conquistas parciais e de acúmulo de confiança e organização, que a classe trabalhadora começa a perceber um fato decisivo: nem o mínimo o capital concede de forma estável. O que é tecnicamente e materialmente possível — pleno emprego, serviços públicos universais, reconstrução ecológica — mostra-se politicamente inviável dentro da ordem do capital, porque ameaça diretamente sua taxa de lucro e seus mecanismos de poder. Como demonstrou Kalecki, políticas que tocam nos alicerces da dominação burguesa acabam sendo revertidas ou bloqueadas pelo próprio sistema.
É por isso que, como advertia Rosa, as reformas só têm sentido enquanto degraus de uma luta que aponta para além de si. O horizonte não é a “boa gestão” do capitalismo, mas a sua superação. Cada fissura aberta pela luta deve ser usada para revelar que, no capitalismo, até o possível se torna impossível. E é dessa experiência viva que amadurece a consciência de que apenas a ruptura revolucionária pode abrir caminho para uma sociedade realmente emancipada.
O dinheiro não acabou. Ele nunca acaba quando se trata de preservar privilégios. Vimos isso na pandemia, vimos isso na tragédia do Rio Grande do Sul e vemos agora novamente no tarifaço de Trump: bilhões em crédito subsidiado, renúncias tributárias e compras públicas foram liberados em tempo recorde para salvar empresas, exportadores e bancos, sem que ninguém perguntasse de onde viria o dinheiro. A tarefa histórica não é apenas exigir que também não acabe quando se trata de salvar vidas, proteger o povo e reconstruir o futuro. É transformar esse desmascaramento em alavanca de enfrentamento, num processo em que o dilema formulado por Rosa volta a soar atual: ou socialismo, ou barbárie.
-

Doutor em Economia pela UnB e Assessor Técnico na Câmara dos Deputados